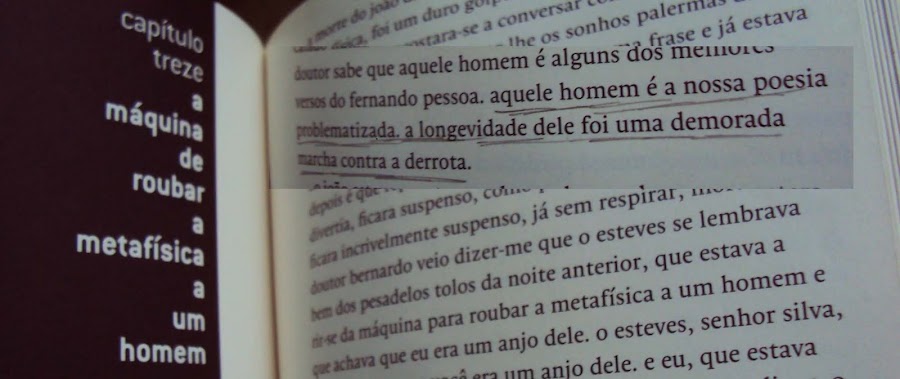“É pra qual jornal mesmo?” é a pergunta que acaba com qualquer entrevista feita por um estudante de jornalismo. Como falar para uma fonte, especialista ou dona de uma tapiocaria, que a reportagem é uma atividade de aula e não vai ser publicada? O entrevistado te dá nome completo, idade, celular, CEP e nome do cachorro enquanto o futuro jornalista foge de maiores satisfações e às vezes inventa um jornal-laboratório que não está produzindo.
O clima é outro numa pesquisa de campo antropológica. Você conversa com Eduardo, o segurança, João pipoqueiro e o José do guarda-volumes da rodoviária. Sem nem perguntar o sobrenome e ainda pode anotar que o José era medido a comunicólogo e o João, mal criado. A entrevista acaba e eles te deixam ir sem a pergunta que assusta principalmente aos calouros: onde vai ser publicado?
Jornalismo e antropologia não são cursos tão diferentes. O trabalho começa com apuração em campo e termina num escritório, quando é hora de escrever o texto jornalístico ou acadêmico. Teóricos das duas áreas tiveram a mesma ideia de associar os cinco sentidos à prática de cada profissão. Tanto Ryszard Kapuściński quanto Roberto DaMatta valorizam o jornalista e antropólogo, respectivamente, que ouvem, olham, cheiram e sentem suas pautas e seus objetos de estudo. Pelo menos na antropologia o mito da objetividade já foi derrubado e o
eu do etnógrafo, quem faz a pesquisa de campo, aparece nas pesquisas mais recentes. O jornalista direciona entrevistas, decide o que fotografar e seleciona fontes, mas consideramos nossa prática objetiva. Preferimos a notícia livre da subjetividade que o preço da gasolina livre de impostos.
A apuração do antropólogo pode durar seis meses, dois anos, o tempo suficiente para ele conhecer toda a cultura de uma população numa ilha perdida do pacífico, no meio da selva amazônica ou no próprio bairro onde mora. Jornalista tem que agir como se conhecesse um estado a três mil quilômetros de distância depois de passar no máximo sete dias no local e ainda trazer informação relevante. Texto jornalístico não prevê um capítulo sobre dificuldades de pesquisa, principalmente com a economia de caracteres feita para caber anúncios cada vez maiores nas páginas dos jornais. Editor é a figura que o jovem jornalista mais teme. Nem se vê tentando vender uma pauta que precisaria de meses de apuração e, quem sabe, mais de um ano para escrever o texto completo, como num doutorado. Nesse caso, o editor perfeito seria o CNPq, a Fapesc ou orientador de TCC.
Uma dica que a professora de antropologia dá num portunhol enrolado aos estudantes, que não sabiam o que era pesquisa de campo até então, é para não se acostumar com os detalhes de uma cultura e anotar num diário todas as experiências. Se o pesquisador começa a achar normal a rotina de uma tribo que pratica rituais secretos e privados, logo acha desimportante o exorcismo de demônios bucais, o apego a poções mágicas e ao curandeiro e tendências masoquistas, como o rito exclusivamente masculino de raspar e lacerar o rosto com um instrumento afiado. Agora imagine um jornalista que propõe pautas como “Homens e mulheres utilizam hoje aparelhos movidos a um líquido amarelado para chegar aos locais de trabalho”, “Brasileiros se vestem para mais um dia” ou “1 milhão de bebês desconhecidos nasceram hoje no país”.
Com ou sem subjetividade e anúncios gigantescos deformando as matérias impressas, bom seria se o deadline pudesse esperar que os jornalistas compreendessem toda uma realidade e traduzissem a apuração num texto digno de Esso. E que os entrevistados dos ainda universitários, apressados com o próximo compromisso, esquecessem todos de perguntar do destino daquela reportagem. Como diria a professora, “A diferença entre antropologia e jornalismo é que ninguém sabe o que é antropologia”. O João pipoqueiro era tão mal criado que nem quis saber por que eu estava fazendo tantas perguntas.
p.s.: Crônica produzida para a disciplina de Redação V e que será publicada na
Zero Revista assim que terminarmos de arranjar ilustrações e diagramar.